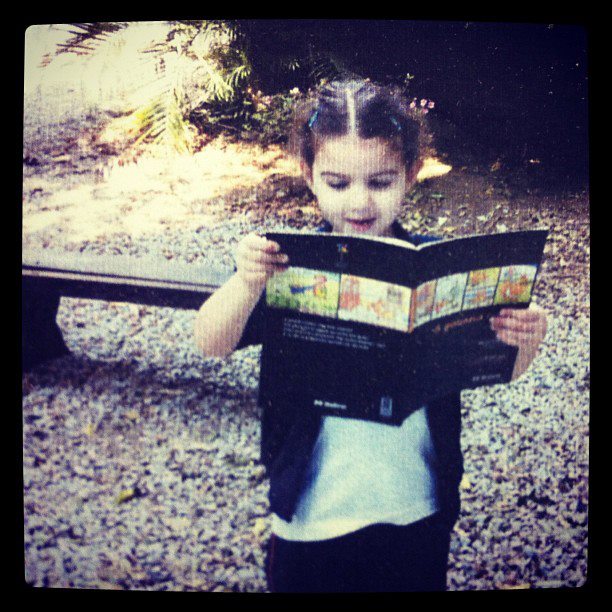por Luiz Henrique Matos

Outra noite, fiquei sozinho em casa com a Nina. Comemos juntos, dei banho nela, pus o pijama e brincamos um pouco sentados no chão da sala – só um pouco mesmo, até eu perceber que existem dois ossinhos nos quadris que não pareciam estar ali até pouco tempo. Na hora de dormir, como de costume, eu contaria algumas histórias. E para a Nina, esse costuma ser o ápice do dia.
Mas para marcar nosso tempo de pai e filha, confabulei uma idéia, dessas que a gente só tem quando sabe que não tem ninguém por perto para repreender: “Filha, já sei! Vamos colocar um colchão aqui na sala e montar sua barraquinha… aí depois a gente trás as cobertas, travesseiros e dormimos lá dentro. Que tal?”
É engraçado como crianças gostam dessas idéias fantasiosas. Para ela, aquilo não era só uma bagunça autorizada na sala, nós estávamos mesmo construindo um castelo. Entre lápis de cor, livros e peças de Lego espalhadas, edificamos o nosso pequeno reino, definimos as regras e vivemos uma aventura.
E o projeto até que correu bem. A exceção se deu por minha tentativa de entrar, deitar e me manter minimamente confortável numa barraca cor-de-rosa de um metro quadrado. Puxa, eu torcia para ela dormir logo e eu poder evitar os sérios danos que aquilo estava causando à minha coluna. Onde eu estava com a cabeça?
Ela gostou, mas na hora de dormir, se mexia de um lado pro outro, virava, chutava as paredes do castelo, me deu uma cotovelada, até que: “Papai, eu não quero dormir aqui! Eu quero ir pro meu quarto e dormir na minha caminha e tomar um leitinho e pôr o cobertor quentinho!”.
E assim, percebendo que minha filha herdou de alguém aqui de casa o temperamento minuciosamente sistemático, vi morrer a idéia mirabolante que eu havia planejado passo a passo e calculado em cada detalhe.
* * *
Se você ainda não é pai, deixe-me dar uma dica: uma coisa boa de se ter filhos é que a gente sempre pode saciar a vontade de brincar, desenhar com giz de cera e correr pela casa fazendo barulhos esquisitos sem que alguém nos julgue por isso. Aliás, pelo contrário, quanto mais estranho você se faz passar para que seus filhos se divirtam, mais as pessoas vão te elogiar e dizer que é um pai presente, amigão e cuidadoso. Mal sabem.
Às vezes, eu fico pensando na minha filha, observo ela concentrada desenhando alguma coisa e percebo que é dessa pureza que Jesus fala quando repreende seus discípulos e diz que “o Reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas”.
No fundo, a história toda não é sobre ser infantil, é sobre ser puro. A questão da vida eterna ao lado de Deus, não diz respeito sobre o quanto deixamos de errar ou o quão eficientes somos em seguir rigidamente as regras todas, mas tem a ver com o nosso coração e a busca sincera em tentar viver de acordo com o que o Pai nos aconselha.
Crianças acreditam em milagres, acreditam em promessas feitas por pais apressados, acreditam em príncipes e contos de fadas, confiam na fidelidade eterna dos amigos, elas acreditam que podem voar. Mas tem gente – os adultos e suas leis – que trata a fantasia como bobagem, colocam freios na imaginação infantil e acabam por matar a beleza da vida com sua visão pragmática dos fatos. Puxa, “visão pragmática dos fatos” já é, em si, uma expressão que mata muita coisa.
O que eu sinto, é que não preciso ensinar um conjunto de leis para minha filha. Eu preciso lhe ensinar bons princípios. E então os caminhos e a vida toda dela será de acordo com esse bom ensino. Uma a uma, suas decisões serão certas, não porque ela obedeceu cegamente ao que ordenei, mas porque soube escolher conforme suas próprias convicções e interpretação do mundo.
Tá, tá legal, eu sei que esse é o tipo de conselho que aparece em qualquer manual para pais de primeira viagem. Não que eu tenha lido algum livro desses – não li – mas é de se imaginar que conste esse tipo de afirmação. Mas o que eu quero dizer (ou tentar entender) é: quem disse que o mundo é do jeito que eu acho que é?
A Nina acha que é uma bailarina e dança em frente à TV até na trilha de abertura da novela das sete – de preferência usando um vestido florido, que roda suspenso no ar enquanto ela gira em torno do próprio corpo. Ela acha que cobrir os olhos com uma almofada a faz desaparecer. Ela ouve as histórias que contamos sobre reinos, reis e heroínas e arregala os olhinhos brilhantes imaginando tudo aquilo acontecendo de verdade, talvez ali na esquina ou no apartamento de baixo.
Crianças acreditam em coisas impossíveis. E pode até ser que o grande valor disso seja porque também acreditam, piamente, nas coisas possíveis. Em todas elas. Para elas, ainda não há mentira no mundo, não existe essa falsidade que a gente vê por aí e o mundo pode ser, de verdade, aquilo que lhes alimenta os sonhos. E isso basta.
* * *
Há alguns dias, eu dirigia pela cidade e parei meu carro num semáforo. Tinha ali um menino, com seus seis ou sete anos, que possivelmente estaria me pedindo algum trocado. Mas ele se distraiu. Estávamos num cruzamento, carros passavam por todos os lados, a cidade gritava com buzinas e motores, fumaça, pessoas cruzando pelas ruas como manadas e motoristas isolados em suas bolhas. E um garoto pobre, sozinho, sem a mãe ou o pai por perto para protegê-lo de tudo aquilo, estava agachado no canteiro gramado, sentado sobre os calcanhares, brincando com um carrinho quebrado, minúsculo, fazendo barulho de motor com os lábios e a imaginação vagando longe, no mundo que ele construía.
Jesus nos pede para acreditar em coisas impossíveis. Ele diz que devemos amar nossos inimigos, que não precisamos nos preocupar com o que vamos comer ou vestir, ele fala que os pobres, os que choram, os humildes, os pacificadores, que toda essa gente sem rumo aos olhos da nossa sociedade são, na verdade, os felizes e bem-aventurados. Jesus diz que crianças são um modelo de vida.
Elas acreditariam nele se tudo isso lhes fosse contado. E talvez até construíssem algo baseado nessa instrução. Um mundo inteiro, quem sabe. Não dá pra duvidar das crianças, porque elas tem dessas coisas, elas confiam, imaginam e, ao seu jeito, obedecem. Crianças brincam e sonham nos cenários mais improváveis. É bonito de ver. É até um aprendizado talvez.
“Digo-lhes a verdade: Quem não receber o Reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele.” (Lucas 18:17).
Bom, veja bem, é possível que a coisa toda do aprendizado seja, no fim das contas, eu me converter à visão da minha filha. Seu coração infantil, a pureza nos gestos, a fantasia, o olhar fixo no pai procurando uma direção.
Eu sei que é contraditório. Pode ser um pouco de fantasia, como isso de acreditar que Deus nos chama a todos de filhos, ama o mundo inteiro e pensa coisas boas sobre nós. Aí sim faz mesmo algum sentido que o olhar de todas as pessoas do mundo estejam fixos numa única direção, que exista um caminho bom.
Ali, guardada sob as cobertas, de pijama, na cama em que dorme todas as noites, antes de fechar os olhos, a Nina ainda me chamou uma última vez, só pra oferecer algum consolo: “Papai, outro dia a gente faz cabaninha e eu durmo lá, tá bom?”. Essas coisas acabam comigo.
Eu queria saber com o que ela sonha.
E nessa caminhada, eu só espero não atrapalhar a espontaneidade das coisas com meu jeito sistemático, sabe? Eu fico aqui reclamando e sentindo essa melancolia toda só porque eu já não brinco mais de Playmobill, mas eu prefiro mesmo é que ela cresça com sua própria visão do mundo e de Deus, criando com ele algo tão diferente e tão belo que, em algum ponto, ela acredite que é possível edificar a verdade nessa terra, que dá mesmo para as coisas serem diferentes se ela se conservar menina e que pode, com seu canto, sua dança, sua fé, um vestido florido e boas escolhas, construir o Reino de Deus, com peças de Lego e castelos cor-de-rosa.
—
(Esse texto faz parte da série “Paternidade”)